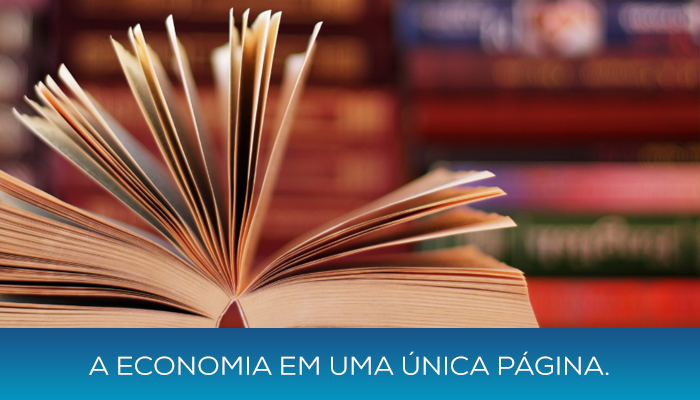Os quatro princípios do sucesso duradouro.

Indicadores de Desempenho de RH! Saiba por que sua empresa precisa.
19 de abril de 2017
Disposição! A chave para Grandes Resultados!
24 de abril de 2017
Quando a empresa vai bem e o faturamento é alto, como saber se o desempenho poderia ser ainda melhor? Como saber que práticas de gestão estão fazendo diferença – e quais simplesmente não estão causando um estrago óbvio?
Para tirar a dúvida, Stadler e colegas da faculdade de administração da Universidade de Innsbruck fizeram um vasto estudo de benchmarking para comparar nove pares de empresas européias ao longo de um período de 50 anos. Cada par era do mesmo setor (de preferência, do mesmo país) e trazia uma empresa de desempenho excepcional e outra de desempenho sólido, mas menos estelar.
O projeto revelou quatro grandes pontos, que Stadler chama de princípios do sucesso duradouro:
Explore o hoje antes do amanhã. Grandes empresas não apostam na inovação para crescer. Antes, crescem graças à eficiente exploração do pleno potencial de ativos e recursos que já possuem.
Diversifique a carteira de negócios. Boas empresas, cientes do perigo da diversificação ir-racional dos negócios, tendem a se ater a sua área de especialização. Já grandes empresas sabem quando diversificar e seguem resilientes graças a um amplo leque de fornecedores e a uma vasta base de clientes.
Lembre-se de seus erros. Boas empresas propagam histórias de sucesso, enquanto grandes empresas lembram também dos erros do passado, para garantir que não voltem a ocorrer.
Seja conservador na hora de mudar. Grandes empresas raramente fazem mudanças radicais – e planejam e implementam com muito cuidado qualquer mudança.
Que diferença fazem esses princípios? Quem tivesse investido um dólar em 1953 no grupo de empresas que seguiu reiteradamente tais preceitos – as seguradoras Allianz, Legal & General e Munich Re; o banco HSBC; a fabricante de material de construção Lafarge; as empresas de alta tecnologia Nokia e Siemens; a petrolífera Shell; e a farmacêutica GlaxoSmithKline – teria hoje US$ 4.077. Já em empresas usadas para comparação – Aachener und Münchener, Prudential Limited e Cologne Re; Standard Chartered; Ciments Français; Ericsson e AEG; BP; e Wellcome -, o mesmo dólar valeria hoje US$ 713.
Qual a diferença entre uma grande empresa e uma meramente boa? Um estudo de empresas de grande porte e longa vida traz respostas reveladoras.
Quando a empresa vai bem, seu faturamento é alto e a cotação das ações sobe, como saber se o desempenho poderia ser ainda melhor? Como saber quais práticas de gestão estão fazendo diferença e quais simplesmente não estão causando estrago visível? O benchmarking é a resposta óbvia – mas não se for para comparar empresas boas com ruins. Para tirar essa dúvida é preciso comparar empresas boas com empresas melhores ainda.
Foi examente o que fizemos. Nos últimos quatro anos, Hans Hinterhuber, Franz Mathis e eu lideramos uma equipe de oito pesquisadores no estudo das melhores e mais antigas empresas da Europa, projeto batizado de Sucesso Duradouro (Enduring Success Project).
Até aqui, o grosso da pesquisa sobre alto desempenho se concentrara em empresas americanas. A obra seminal de Jim Collins e Jerry Porras, popularizada no best-seller de 1994 Feitas para Durar, é apenas um exemplo. De certo modo, não causa surpresa: dados sobre empresas americanas são relativamente fidedignos e de fácil acesso. Além disso, o universo acadêmico da gestão é dominado por instituições americanas. Concentrar a pesquisa em empresas européias foi um desafio, pois muitos dos dados exigidos estavam longe de prontamente disponíveis.
Nossa meta era entender como certas empresas puderam registrar um desempenho altíssimo por um período tão longo de tempo. É possível aprender com a experiência delas? O que fizeram para ficar à frente de outras empresas longevas de grande porte que, embora bem-sucedidas (ou não teriam durado tanto), não eram tão extraordinárias? Para desvendar esse mistério, comparamos cada empresa de uma amostra de organizações de formidável desempenho nos últimos 50 anos com outra empresa antiga do mesmo setor (de preferência, do mesmo país) cujo desempenho foi sólido, mas não tão bom (veja a lista completa de empresas no quadro “O que queremos dizer com ‘grande’?”). Fomos assessorados, no decorrer do projeto, por um grupo de consultores tarimbados: Alfred D. Chandler Jr., Arie de Geus, Edgar Jones, Michael Mirow, Jerry Porras, Peter Schütte, Risto Tainio e Gianmario Verona.
O projeto revelou quatro grandes pontos, que chamamos de princípios do sucesso duradouro:
1. Explore o hoje antes do amanhã. Ao longo de sua vida, todas as grandes empresas de nossa amostra se dedicaram a cultivar ativos e recursos que já possuíam antes de sair explorando outros, novos.
2. Diversifique a carteira de negócios. Enquanto uma empresa boa tende a se concentrar naquilo que faz melhor, a grande sabe quando se diversificar e trata, ainda, de manter uma base ampla de fornecedores e clientes.
3. Lembre-se de seus erros. Grandes empresas não se cansam de falar sobre erros do passado, para garantir que não voltem a ocorrer.
4. Seja conservador na hora de mudar. Grandes empresas raramente fazem mudanças radicais – e planejam e implementam com muito cuidado qualquer mudança.
Para nós, essas conclusões foram surpresa. Não só havia princípios que contrariavam a intuição (quem diria que o cultivo sustentado seria melhor do que a inovação sustentada?), mas muitos dos “suspeitos” de sempre não deram as caras. Tínhamos certeza, por exemplo, de que a cultura da empresa despontaria como fator de diferenciação – afinal, um alto volume da literatura afirma que os valores da empresa são cruciais para o desempenho. Ao analisarmos a questão de forma mais detida, porém, concluímos que, embora indispensável para o sucesso, uma cultura forte não determina se a empresa é boa ou espetacular. Medalha de ouro, a Siemens tem uma cultura sólida, que remonta ao fundador da empresa, Werner von Siemens. Mas o mesmo pode ser dito da AEG, a medalha de prata à qual a Siemens foi comparada. O mesmo vale para outras vices da amostra, como Prudential, Ericsson, BP.
Constatamos, ainda, que é preciso muito empenho por parte da empresa para seguir fiel aos quatro princípios diante da constante tentação de se desviar deles. A Nokia, por exemplo, sempre administrou de modo espetacular suas operações – mas quase esqueceu disso quando a inovação que foram seus novos celulares trouxe fantásticas oportunidades de maior faturamento. A Nokia adotou metas ultra-ambiciosas de vendas, o que aumentou custos e gerou problemas de logística e qualidade. Na divisão de celulares, o lucro caiu. Ao captar os sinais de alerta, a empresa renovou o foco na rentabilidade, não no crescimento. A linha de produtos encolheu e a execução voltou ao topo da pauta, garantindo um desempenho sólido e contínuo. Outras campeãs que por um momento deixaram de lado os princípios aqui delineados também tiveram desempenho inferior ao das empresas de comparação no período.
Nas páginas seguintes, irei descrever e ilustrar esses princípios em detalhe. Antes, porém, gostaria de explicar em mais detalhes como chegamos aos quatro.
Nosso projeto
Com o apoio do OeNB Jubiläumsfonds, iniciamos o projeto com as 40 empresas européias de mais de cem anos de idade incluídas no ranking Fortune Global 500 de 2003. Nos quatro meses seguintes, calculamos o retorno total ao acionista (RTA) de todas para cada um dos 50 anos anteriores.
Reunir os dados exigidos para esse cálculo foi mais complicado do que esperávamos. Dados financeiros de empresas britânicas só começaram a ser centralizados em 1964; no caso de empresas do continente europeu, apenas em 1972. Com visitas a bibliotecas, bolsas de valores e arquivos de empresas encontramos relatórios e jornais que traziam a maioria das informações que buscávamos. Na Finlândia, a coisa foi particularmente difícil. Só chegamos aos dados exigidos quando Seppo Ikäheimo, da Faculdade de Economia de Helsinque, fez a cortesia de nos indicar Kim Lindström, um velho investidor comumente tratado como o Warren Buffett da Finlândia.
Das 40 empresas examinadas, identificamos nove cujas ações tinham superado o desempenho dos principais índices do mercado (Dow Jones, DAX e FTSE) por um fator mínimo de 15 durante todo o período considerado. É claro que seu desempenho médio foi muito melhor: as medalhas de ouro bateram o mercado por um fator de 62. Buscamos então empresas que servissem de comparação (o ideal é que coincidissem em país de origem, setor e idade). Como sugere sua longevidade, essas medalhas de prata também tinham desempenho sólido (superando o mercado por um fator de oito). Haviam até batido as campeãs aqui e ali, por períodos relativamente curtos de tempo (em um caso excepcional, por seis anos; mas em geral por apenas um ou dois anos).
Munidos dos dados brutos e definidas as duplas de empresas, fomos ouvir analistas financeiros e acadêmicos da área de administração para definir os principais indicadores de desempenho nos setores representados nas duas amostras. Para cada setor desses achamos de oito a dez indicadores (nem sempre os mesmos) e determinamos que as primeiras colocadas superavam as vices em 90% deles, em média (veja o quadro “O que faz a diferença?”).
Definida a amostra e reunidos os dados financeiros, estávamos prontos para iniciar uma análise detida de cada dupla de empresas, tarefa que consumiria três anos e meio. A análise envolveu um estudo detalhado da história empresarial de cada companhia (no caso do HSBC, quatro tomos totalizando 3.114 páginas!). Em seguida, reunimos e codificamos milhares de páginas de material (reportagens, arquivos, organogramas, relatórios de projetos e por aí vai) para garantir que nenhum fato importante fosse ignorado. Conversamos com centenas de analistas e acadêmicos e conduzimos entrevistas formais com executivos que trabalham ou haviam trabalhado nas empresas das duas amostras. No decorrer do processo, surgiram várias hipóteses sobre a diferença básica entre grandes empresas e empresas meramente boas – hipótese que discutimos e testamos à luz dos fatos. Nos estágios finais do projeto, Davis Dyer, das firmas Winthrop Group e Monitor Company, questionou nossas idéias à luz de teses correntes da administração. Quatro das hipóteses passaram pela prova: os quatro princípios do sucesso duradouro.
Embora o esquema geral tenha sido incrivelmente consistente ao longo do tempo e por todos os setores, estamos cientes das limitações de nosso trabalho. Por sua complexidade e diversidade, a história sempre produz exemplos contrários. A pesquisa em outras regiões também poderia gerar resultados distintos. Não estamos afirmando ter descoberto a verdade – nossa única intenção é contribuir para o contínuo debate sobre aquilo que realmente funciona.
Vejamos, agora, o primeiro princípio do sucesso duradouro.
PRINCÍPIO 1
Explore o hoje antes do amanhã
Dados de caráter público sobre o desempenho de empresas não trazem um indicador que, sozinho, ilustre a tensã
;o entre a exploração do hoje e a do amanhã para diversos setores ao longo do tempo. Decidimos, portanto, examinar vários indicadores. Para medir o peso da prospecção do amanhã, usamos o gasto em P&D e patentes emitidas, ambos como porcentual das vendas. No caso da exploração do hoje, usamos o retorno sobre o patrimônio, sobre vendas e sobre o investimento.
A análise histórica revela um claro padrão: embora as medalhas de ouro não negligenciassem o amanhã, sua estratégia reiterada era priorizar iniciativas de exploração do que já possuíam. Ao que parece, é possível compensar uma prospecção insuficiente com uma eficiência maior na exploração. A longo prazo, porém, a empresa não é capaz de compensar a insuficiência na exploração daquilo que tem com uma prospecção melhor. Ou seja, grandes empresas não usam a inovação para crescer – crescem com a exploração eficiente do pleno potencial de inovações existentes. As trajetórias contrastantes da Glaxo, uma suprema exploradora do hoje, e da Wellcome, uma inspirada inovadora, ilustram claramente a tese (embora a Glaxo tenha comprado a Wellcome em 1995, as duas não tiveram ligação entre si por tempo suficiente para que fossem tratadas como entidades distintas no estudo).
Quando criou sua empresa com Silas Burroughs, em 1880, Henry Wellcome queria estabelecer seu nome como o de pioneiro na área médica. Com tal meta em mente, patrocinou boa parte da pesquisa de campo então conduzida na área da medicina tropical – a biotecnologia da época. Wellcome incentivava os cientistas que apoiava a publicar suas descobertas, prática então bastante inusitada. O trabalho pioneiro que patrocinava inevitavelmente resultou em produtos comerciais, e por um belo tempo a empresa prosperou. Mas, depois que o controle operacional foi assumido por George E. Pearson, em 1024, o sucesso comercial começou a diminuir, ainda que a capacitação científica da empresa seguisse com a mesma qualidade. O problema, constatamos, foi que os cientistas nos laboratórios da Wellcome haviam perdido praticamente todo interesse no sucesso comercial. Para eles, o que realmente importava era sua reputação científica. Com o elo que até então unia a pesquisa científica à operação comercial perdendo força, a Wellcome acabou no lado errado.
A Glaxo teve história bastante distinta. Joseph Edward Nathan, que junto com o cunhado fundou a empresa em 1861 para comercializar artigos em geral, criou uma subsidiária em 1905 para explorar uma patente que comprara para manufatura de leite em pó. Graças a uma campanha de marketing (bem) organizada e empreendida pelo filho, Alec, a empresa rapidamente virou a maior fabricante de leite em pó para o público infantil na Inglaterra. Foi a primeira de muitas ocasiões em que a Glaxo explorou um invento de terceiros.
Setenta e seis anos depois, a Glaxo repetia a fórmula com o remédio para úlcera Zantac, lançado em 1981. Na época, o tratamento da úlcera era uma das áreas mais efervescentes da pesquisa de fármacos. As líderes eram SmithKline, Pfizer e Eli Lilly. A Glaxo chegou mais tarde, lançando o Zantac cinco anos depois da estréia do Tagamet, campeão de vendas da SmithKline para o mal. O Zantac não trazia avanço científico ou médico notável em relação ao Tagamet. A única diferença era de dosagem, o que permitia a administração de menos comprimidos ao dia.
Segundo a tese reinante no setor, um produto sem novidades como o Zantac jamais conquistaria mais de 50% do mercado. Já para a Glaxo, a aparente desvantagem de ter chegado depois abria uma oportunidade. Pioneira que fora, a SmithKline investira para orientar médicos sobre a nova categoria de medicamentos para úlcera e, segundo pesquisas de mercado da Glaxo, a classe médica via o Zantac como “outro Tagamet” – ou seja, como um produto cujos benefícios já conhecia. Com isso, a equipe de vendas da Glaxo podia se concentrar em promover os benefícios do Zantac em relação ao Tagamet. A Glaxo decidiu cobrar mais pelo novo remédio para frisar sua superioridade em relação ao rival. Foi um lance ousado, mas certeiro.
Nesse tempo todo, a SmithKline seguiu investindo pesado em P&D, mas o resultado da Glaxo foi bem melhor em termos de receita e rentabilidade – tanto que, em 2000, acabou comprando a rival mais inovadora (mais uma vez, pagando pela inovação, em vez de inovar).
Em toda nossa amostra, observamos reiteradamente a preferência pela exploração do hoje em detrimento da prospecção. Na Ericsson, por exemplo, um exército de 30 mil pesquisadores fizera da empresa a pioneira na comunicação sem fio via GPRS e na terceira geração da telefonia celular. Infelizmente, tais avanços custaram caro: duplicação em larga escala de iniciativas de pesquisa, gastos pesados com P&D e apostas grandes e arriscadas nos rumos futuros da tecnologia. Em 2001, quando a indústria de telecomunicações entrou em recessão, a Ericsson levou um duro golpe. Demitiu cerca de 60 mil funcionários e fechou vários centros de pesquisa. No final, decidiu unir sua divisão de celulares à da Sony.
Já a Nokia, a adversária mais forte (que atua em telecomunicações desde a década de 1960, tempo suficiente para ser considerada por nós uma empresa do setor), tratou de explorar o que tinha. Com as margens sob pressão em meados da década de 1990, a empresa montou equipes de “faxina” para otimizar as operações, reduzir estoques e renegociar preços e prazos de entrega de componentes. Quando o setor entrou em recessão, a Nokia estava muito mais bem preparada do que a Ericsson – e seguiu sendo uma das líderes mundiais na telefonia celular.
PRINCÍPIO 2
Diversifique a carteira de negócios
É uma regra conhecida da estratégia
que a diversificação só funciona se a empresa que diversifica puder combinar atividades correlatas para explorar economias de escopo. A experiência tende a corroborar tal tese. Nas décadas de 1960 e 1970, por exemplo, consultores e acadêmicos pregavam a diversificação dos negócios para reduzir o impacto de quedas no ciclo econômico. Estudos empíricos condundentes foram apresentados para sustentar o argumento, e muitas empresas seguiram o conselho. Praticamente todas lamentaram a decisão. A ânsia de diversificar persistiu mesmo depois das catástrofes da década de 1970: na década de 1980, a BP seguia mexendo com nutrição (com ração para peixe, inclusive). A maior empresa de serviços básicos da França, a Vivendi, se julgava um grupo nascente de comunicação e entretenimento.
Hoje, poucos discordariam que montar um conglomerado é péssima estratégia. Mas o antídoto – empresas dedicadas a uma só atividade ou com um único ponto forte – não parece muito melhor quando examinado da perspectiva do longo prazo. Empresas do gênero se saem bastante bem no curto prazo, é verdade. Mas, quando observadas ao longo de décadas, surge outro retrato: muitas das empresas de uma atividade só simplesmente evaporam. Estudo de Richard Whittington, da Saïd Business School (Oxford), e Michael Mayer, da University of Bath School of Management, com as cem maiores empresas industriais de capital nacional na França, na Alemanha e no Reino Unido sustenta a tese. Ao aplicar um critério de diversificação criado na década de 1970 por Richard Rumelt, da Anderson School of Management (UCLA), Whittington e Mayer descobriram que 68% das empresas de uma atividade só incluídas no ranking das cem maiores em 1970 tinham deixado a lista em 1983; 42% das empresas do ranking em 1983 já não estavam na lista em 1993. Empresas atuantes em diversas (mas correlatas) frentes se saíram melhor: apenas 37% das listadas em 1970 não permaneciam na lista em 1983, e 35% das que constavam do ranking nesse ano nele não permaneciam em 1993. Não é difícil imaginar por que uma empresa restrita a uma atividade pene tanto para permanecer no topo. Quando essa atividade chega ao fim do ciclo de vida, as únicas saídas possíveis são o declínio, a fusão ou a venda.
Isso explica por que grandes empresas evitam tanto se especializar demais como se diversificar demais. O caso da seguradora alemã Allianz, outra medalha de ouro em nossa pesquisa, é um estudo sobre a criação de uma base ampla de clientes. Desde o surgimento, em 1890, a Allianz adotou a estratégia de diversificar sua carteira de negócios. Sua primeira incursão no mercado pode muito bem ser considerada uma diversificação: seus fundadores decidiram evitar o nicho de seguro contra incêndio – carro-chefe (embora decadente) da maioria das seguradoras de então – e se concentraram num novo tipo de produto, vendido sobretudo por estrangeiras: o seguro de transportes. Com a industrialização da Alemanha a aposta rendeu e a empresa em breve tinha uma fábrica de dinheiro nas mãos. Em vez de reaplicar os recursos no nicho de transporte, a Allianz correu a entrar em outro ramo incipiente, o de acidentes – e depois no industrial, vendendo sua primeira apólice de seguro de maquinário em 1900, apenas dez anos depois de surgida.
Nas duas décadas seguintes, a Allianz seguiu diversificando. Em 1918 já contava com todo um braço voltado ao novo mercado de seguro de automóveis. Dali a anos, virava a empresa dominante no mercado de seguro de vida, com a fundação da Allianz Life em joint venture com a Munich Re e diversos bancos. A estréia da Allianz no setor fora preparada de antemão – e nos mínimos detalhes. Em 1918, a Allianz discutira uma parceria com a companhia de seguros de vida Karlsruher Lebensversicherung. Incapaz de chegar a um acordo, fez uma parceria em 1921 com a Friedrich Wilhelm Lebensversicherungs, pela qual cada uma faria a venda cruzada dos produtos da outra, dando à Allianz uma oportunidade para se familiarizar com o novo nicho. Embora a tentativa de estreitar a união tenha naufragado, a Allianz usou a experiência para criar um braço próprio de vida em 1922. Com três décadas de sua criação a seguradora era a maior da Alemanha em todas as modalidades de seguro que oferecia, de vida e outros.
Fundada em 1824, a medalha de prata Aachener und Münchener (A&M) mostrava pouco interesse em ter uma linha completa de seguros. O velho provérbio alemão “Schuster bleib bei deinen Leisten” (equivalente, no espírito, ao “cada macaco no seu galho”) descreve perfeitamente a abordagem da empresa. Em alto contraste com a Allianz, a A&M seguiu fiel ao negócio original (seguro contra incêndio para produtores rurais) durante os primeiros 40 anos de existência, só cedendo quando a concorrência maior e a queda na demanda por aquela modalidade tornaram inevitável a diversificação. Quando diversificou, os novos negócios pouco passavam de extensões do produto. Sua primeira incursão nesse sentido foi no resseguro e no seguro contra granizo, ambos voltados à base existente de clientes. Era reflexo da postura dos corretores da A&M, que não se sentiam capazes de vender para a indústria.
Foi só em 1924 – um século depois de fundada e 25 anos depois de ter considerado pela primeira vez a idéia – que a empresa ampliou de verdade sua área de atuação, com a compra da Aachen-Potsdamer Lebensversicherung, do ramo de seguros de vida. Outra providência para expandir a base de clientes foi a formação do Rheinische Gruppe, uma cooperativa de 15 seguradoras cujo núcleo trazia a A&M, a Colonia e a Vaterländische. Os dois acordos foram passos na direção certa – mas insuficientes e tardios. O negócio de seguro de vida era relativamente pequeno e a cooperativa nunca se aglutinou de fato, deixando a A&M altamente dependente do ramo de seguro para o campo. Com a ocupação da Alemanha pela Rússia na esteira da 2a Guerra Mundial, a A&M perdeu uma região agrícola que gerava 40% de sua receita com seguros contra incêndio.
Diversificação geográfica pesa tanto quanto variedade de produtos, como mostram as experiências contrastantes das duas maiores fabricantes de cimento francesas. Medalha de ouro, a Lafarge teve início como um negócio de família no sul da França. Num setor que no século 18 e princípios do século 19 dependia pesado de contatos regionais, a fam&iac
ute;lia tinha tudo para triunfar – incluindo relações particularmente boas com autoridades do departamento de pontes e estradas, a Corps des Ponts et Chaussées. A Lafarge achava, porém, que não podia depender apenas do mercado interno e logo cedo partiu para uma diversificação internacional. Sua primeira incursão no exterior foi com um imenso contrato para fornecer 110 mil toneladas de cal para a construção do Canal de Suez, em 1864. Outros projetos a levaram a Espanha, Itália, Grécia, Líbano, Chile, Rússia, Sérvia, Romênia e Bulgária. Na esteira da 2a Guerra Mundial, a Lafarge usou os recursos gerados pela reconstrução no pós-guerra para acelerar a internacionalização e adentrar setores correlatos, como o de agregados e concreto. Em 1973, quando a primeira crise do petróleo pôs fim ao boom no setor da construção na França, a Lafarge operava em 15 países. Oportunidades de crescimento em países em desenvolvimento compensaram, assim, o desaquecimento na França.
A história da Ciments Français foi bem distinta. Surgida em 1846 como produtora de cimento Portland no norte da França, a empresa atuou quase que exclusivamente na França pelos cem anos seguintes. A única exceção foi uma pequena presença em Marrocos a partir da década de 1950. Em 1971, a Ciments Français uniu-se à Poliet et Chausson e virou a maior fabricante de cimento na França. Isso ocorreu logo antes da crise do petróleo, que derrubou a receita em seu principal mercado, a região de Paris, em 40% entre 1974 e 1979. A empresa nunca se recuperou. Em 1992, o maior acionista da Ciments Français, o banco francês Paribas, vendeu 40% da empresa à Italcementi.
Diversificação na ponta do suprimento também é importante. No dia 17 de março de 2000 um incêndio em uma fábrica da Philips em Albuquerque, Novo México, provocou distúrbios na cadeia de suprimento de fabricantes mundiais de telefones. Medalha de ouro, a Nokia tinha outros fornecedores nos Estados Unidos e no Japão – e obteve deles a maioria dos componentes destruídos no Novo México. Já a medalha de prata Ericsson não tinha fornecedores alternativos. Numa campanha anterior de corte de custos, a empresa resolvera ficar com um único fornecedor – e pagou o preço. Enquanto para a Nokia o incidente em Albuquerque não teve nenhum efeito negativo duradouro, para a Ericsson foi o início de um declínio ininterrupto na telefonia celular.
PRINCÍPIO 3
Lembre-se de seus erros
Experiências contundentes muitas vezes se transformam em histórias passadas de geração para geração. Naturalmente, empresas de sucesso têm boas histórias a contar – e as contam com freqüência. Isso serve para motivar as pessoas e para inspirá-las a agir daquele jeito que garantiu o sucesso no passado e provavelmente seguirá garantindo no futuro. A Glaxo, por exemplo, não cansa de repetir a história da triunfal campanha de marketing de Alec Nathan para o leite em pó – história explorada abertamente por líderes da empresa sete décadas mais tarde, quando do lançamento do Zantac.
Mas o que realmente distingue as grandes das meramente boas é que as primeiras lembram também dos erros. Peguemos a Shell. Até a 2a Guerra Mundial, a Shell era tocada praticamente por um único indivíduo. Em 1907, Henri Deterding liderara a fusão de sua empresa, a Royal Dutch Petroleum Company, com a Shell Transport and Trading, criando o Royal Dutch/Shell Group. Sob seu firme controle, a empresa prosperou e virou uma das principais adversárias das grandes petrolíferas americanas nascidas do desmantelamento da Standard Oil Trust.
Uma forte personalidade e uma trajetória formidável conferiram a Deterding um poder sem igual na Shell. Infelizmente, também o deixaram em posição de considerar um apoio financeiro e moral a Adolf Hitler, que Deterding via como o homem mais inclinado a proteger a Europa dos comunistas. Deterding ia com freqüência à Alemanha e acabou se casando com uma alemã. Para a sorte da Shell, se aposentou em 1936, antes de assumir compromissos que mais tarde pudessem constranger a empresa.
A empresa não esqueceu o risco que correra: sucessores de Deterding foram impedidos de acumular tamanho poder. Em 1964 o conselho rejeitou a sugestão da McKinsey & Company de que instalasse no comando um presidente nos moldes americanos, cujos poderes oficiais equivaleriam aos de Deterding no passado. O conselho criou, antes, um comitê de diretores-gerentes – a autoridade executiva máxima da empresa, cujo presidente tem responsabilidade apenas ligeiramente maior do que a dos demais integrantes. O esquema durou décadas. Só há pouco – na esteira da crise deflagrada pelo superdimensionamento das reservas comprovadas de gás e petróleo do grupo – a Shell adotou o estilo clássico de liderança, empossando um presidente. Ainda assim, segue tomando extremo cuidado para não instalar no comando alguém autoritário. “Se por um lado temos um presidente com maior poder para imprimir velocidade [às coisas] ou insistir naquilo que deseja atingir, por outro pensamos em como cercar essa pessoa de freios e contrapesos”, diz Jeroen van der Veer, presidente da Shell, ao descrever a transformação na estrutura de governança.
Já a BP parece não ter aprendido nada com a nacionalização de seus ativos pelo Irã em 1951 – ativos que respondiam por 75% do estoque de petróleo da empresa. Dois anos depois, na esteira de um golpe no país, foi indenizada. Mas, nas décadas seguintes, foi incapaz de diversificar de modo expressivo sua base de ativos, acabando altamente dependente de um pequeno número de instalações no Alasca e no Mar do Norte. Com o colapso dos preços do petróleo já no final da década de 1990, esses ativos perderam valor e a BP novamente se viu em apuros. E voltou a repetir o erro: embarcou em uma nova caça ao tesouro e hoje depende de instalações na Rússia e em outras antigas nações soviéticas – assim como dependeu do petróleo iraniano no passado.
Embora a BP tenha penado pela incapacidade de seguir o princípio da diversificação, é patente que a empresa não aprendeu a lição. É incrível a facilidade com que seu então presidente, John Browne, desca
rtou temores em relação a um imbróglio fiscal e ao papel do Estado russo. “A temperatura está sempre mudando – de fria a moderada”, disse em uma entrevista em 2005 ao jornal Guardian, “mas os tributos atrasados para 2001 foram calculados, e já prevejo outros montantes volumosos para 2002 e depois, algo que tampouco é atípico. Em muitos outros lugares do mundo surgem contas grandes assim. Mas em geral há negociação, e chega-se a um acordo.”
Medalha de ouro, o HSBC é uma empresa que tira lições dos erros cometidos. A Hong Kong and Shanghai Banking Corporation foi criada em 1865 pela comunidade mercadora em Hong Kong para financiar o comércio internacional. A estreita relação com a principal clientela do banco garantiu um começo bom – mas trouxe também desvantagens. Financiar o investimento em ativos fixos na China provou-se mais arriscado do que o previsto e, para o HSBC, o acesso ao capital em Londres era mais complicado do que para concorrentes sediados no Reino Unido. Com a recessão de 1873, o golpe foi particularmente duro para o HSBC. O banco decidiu adotar uma abordagem mais equilibrada à gestão – abordagem que domina até hoje sua estratégia. Em 1876 instalou um segundo comitê executivo em Londres, produzindo um equilíbrio de forças entre o braço de financiamento comercial na Ásia e o centro de alocação de capital em Londres. Além disso, intensificou a campanha de formação de reservas e garantiu que altos gerentes já não tivessem interesses comerciais fora do banco.
Já o Standard Chartered (Chartered Bank of India, Australia and China, quando fundado em 1853), medalha de prata em nosso estudo, não aprendeu com seu maior erro: criar um sistema de gestão centralizado em Londres, com conhecimento limitado do mercado na China. Em diversas ocasiões, o banco perdeu grandes negócios para o HSBC. Em meados da década de 1860, por exemplo, saiu perdendo porque prazos de pagamento de duplicatas foram reduzidos por Londres, contrariando o conselho de gerentes locais. Ainda assim, seguiu fiel ao velho sistema. Sobreviveu nas décadas seguintes apesar – e não por causa – da gestão centralizada. A gerência local simplesmente ignorava as ordens da matriz, que julgava inadequadas.
PRINCÍPIO 4
Seja conservador na hora de mudar
A lógica schumpeteriana diz que a destruição criativa é a única via para a sobrevivência no capitalismo moderno: a mudança é inevitável, e é melhor estar à frente dela do que segui-la. Pelo menos é o que se costuma acreditar. Grandes empresas discordam. Só promovem uma mudança radical em momentos muito especiais de sua história. Embarcar em toda nova onda da gestão não é para elas. Uma grande empresa usa seus valores e princípios básicos como norte. Nela, a mudança é abordada de modo culturalmente sensível, com paciência.
Na década de 1960 o cenário de negócios da Siemens, medalha de ouro em nosso estudo, era o mesmo da arquiinimiga AEG. A Alemanha do pós-guerra vivia um milagre econômico, período cheio de grandes oportunidades para empresas de engenharia elétrica. Em linhas gerais, as duas tinham estratégias e estruturas similares. Ambas buscavam o crescimento, ambas tinham a ambição de se estabelecer em mercados mundo afora. E ambas deveriam ter tido um bom desempenho na década de 1970. Mas, embora a AEG tenha se equiparado à Siemens na década de 1950, suas margens de lucro entraram em queda em fins da década de 1960 e nunca mais se recuperaram. Qual foi o problema?
A resposta parece estar no modo como cada uma processou grandes mudanças na década de 1960. A campeã Siemens assumiu uma postura bastante seletiva, promovendo mudanças apenas quando podia enxergar uma justificativa estratégica clara para reestruturar a carteira de negócios. Na hora de implementar a mudança, ia devagar para tornar a transformação o menos dolorosa possível para a equipe.
A Siemens promoveu mudanças por quatro motivos, e cada um deles era, por si só, justificativa suficiente para mudar. Primeiro, a diretoria percebeu que a antiga divisão de tecnologias de alta corrente (geração de energia) e baixa corrente (telecomunicações) já não servia. Aliás, a maioria da redundância em pesquisa e produção nascia da falta de cooperação entre as subsidiárias Halske (baixa corrente) e Schuckert (alta corrente). Segundo, em meio à pressão para a fusão dos dois braços a diretoria via, ainda, que a antiga divisão de bens de consumo da empresa tinha cada vez menos espaço em meio às atividades de alta e baixa corrente, que faziam a empresa crescer. Terceiro, além de todas essas considerações estratégicas, havia o medo daquilo que aconteceria quando o então presidente, Ernst von Siemens, se aposentasse. Sem um sucessor da família, ninguém na organização podia garantir que as subsidiárias da empresa, independentes, seguiriam juntas de modo eficaz. Por último, o governo alemão preparava uma legislação que obrigaria a empresa a revelar informações sigilosas sobre suas operações caso não consolidasse seus braços.
A Siemens agiu de modo bastante refletido em resposta a cada pressão dessas. O primeiro passo foi reunir as divisões de rádio, TV e eletrodomésticos em uma nova subsidiária, a Siemens Electrogeräte, lançando as bases para sair, em 1957, do braço de bens de consumo. Nos anos que se seguiram, o grupo fechou ou vendeu as atividades de produção de rádio e TV. Sobrou o braço de eletrodomésticos, desmembrado em 1967 com a criação de uma joint venture com a Robert Bosch, grande empresa do setor. No todo, o processo durara uma década. A princípio, a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte não passava de uma força de vendas conjunta. Só com os anos a produção passou a ser integrada.
Igual cautela foi adotada para reagir à pressão para integrar a Halske e a Schuckert. Embora a decisão de fundir os dois braços tenha sido anunciada em 1965, foi só em 1969 que as subsidiárias foram formalmente substituídas por seis divisões: componentes, tecnologia de dados, tecnologia de energia, tecnologia de instalação, tecnologia médica e telecomunicações. Em termos cultu
rais, a mudança demorou ainda mais. Muitos dos esquemas e muitas das práticas tradicionais seguiam iguais até 20 anos depois de formalmente concluída a reorganização. Com efeito, durante anos o pessoal da Siemens aludiu aos “die Männer von Schuckert und die Herren von Halske” (os homens da Schuckert e os senhores da Halske), num registro de duas culturas muito distintas. É possível dizer que a convergência só foi concluída em fins da década de 1980, quando teve início outro processo de transformação.
Já a medalha de prata AEG agiu de modo muito mais afobado e menos sensível. A mudança só fincou raízes em 1962, com a chegada de Hans Heyne à presidência, e foi motivada sobretudo pelo desejo do presidente de reduzir custos sem ferir o crescimento. É como explicava o conselho em uma declaração na época: “Temos de concentrar todas as forças na redução de custos. Para isso, o grande instrumento é a reorganização”. O resultado foi que a AEG se reorganizou de forma rápida e radical, sem efetuar mudanças reais em sua carteira geral de operações.
À primeira vista, parte das mudanças de Heyne (criação de cinco novas divisões e consolidação das atividades de rádio e telecomunicações da AEG com as da subsidiária Telefunken) tinha correspondência com as reformas então em curso na Siemens. Já o efeito estratégico foi totalmente oposto. Enquanto a Siemens consolidara as operações de bens de consumo para se desfazer delas, a AEG promovera a consolidação das divisões de rádio e telecomunicações para mantê-las no grupo.
Em 1970 a AEG era um conglomerado virtualmente impossível de administrar. A personalidade e o estilo de liderança abrasivos de Heynes haviam deixado feridas profundas. O pé atrás de Heynes em relação às práticas tradicionais da AEG fica patente em uma declaração na qual o executivo se refere a conselhos ouvidos de outros gerentes do setor: “Esses homens me deram bons conselhos, mas me disseram também, antes de assumir o comando da AEG, que precisaria garantir um apoio especial do conselho, para cobrir a retaguarda. Sem isso, não levaria nada a cabo na AEG, onde as coisas há muitos anos seguem iguais”. Apesar de suas intenções, Heynes criou um clima no qual os gestores eram incapazes de assumir responsabilidades, uma cultura em sério contraste com uma tradição de longa data. Imperava o medo, não a criatividade. Muitos dos altos gerentes partiram, e quem ficou volta e meia se referia às würstchen (salsichinhas) de Heynes.
…
Às vezes achamos que vivemos no mais revolucionário dos tempos. Rememorar os desafios do passado é bom para mostrar que toda geração acredita que sua era é a mais revolucionária de todas. As empresas de destaque em nossa amostra seguiram vivas e saíram à frente na esteira da Grande Depressão, de duas guerras mundiais e de duas crises energéticas, para não falar do advento do telefone, da televisão, do computador. Para registrar tal façanha, aderiram aos quatro princípios do sucesso duradouro. Nada impede que utilizemos o mesmo mapa para cruzar, hoje, os mares agitados da competição global e de tecnologias disruptivas de informação.
______________________________________
Christian Stadler (Christian.Stadler@uibk.ac.at) é professor-assistente da faculdade de administração da Universidade de Innsbruck, na Áustria. É autor de um livro a ser lançado em breve – Enduring Success: What We Can Learn from the History of Outstanding European Corporations – e do qual o presente artigo foi adaptado.